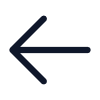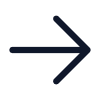Carlos Mélo
Sobre Humano

source: pacodasartesorgbr
Com várias formações e pesquisas no ramo das artes e filosofia, desenvolve atividades artísticas regulares de âmbito nacional e internacional. Expõe regularmente em circuitos institucionais e em galerias. Foi premiado em diversos salões de arte nacionais e, em 2006, recebeu o Prémio CNI Marcantonio Vilaça para as artes visuais.
.
.
.
.
.
.
.
source: sitevideobrasilorgbr
Segundo o artista, “a tecnologia é uma abstração contemporânea”. É a partir de uma ideia como essa que Carlos Mélo fala de sua obra Sobre Humano, que integra a 18a edição da exposição Panoramas do Sul. Feita de ossos de boi, a obra integra uma série toda feita a partir da imagem do animal. Tomando a forma de uma escada, ele a concebe como um corpo móvel, que sugere a possibilidade de múltiplas composições, um “corpo de fuga”, como diz. Fala ainda de seu fascínio pelo que chama de mundo mágico presente na natureza, e da utilização de elementos naturais como forma de tomar contato com essa parte da realidade, e da pré-disposição dos seres humanos para a criação de imagens. Com uma carreia como videoartista, comenta a curiosidade de participar do Festival com um trabalho em outra mídia.Segundo o artista, “a tecnologia é uma abstração contemporânea”. É a partir de uma ideia como essa que Carlos Mélo fala de sua obra Sobre Humano, que integra a 18a edição da exposição Panoramas do Sul. Feita de ossos de boi, a obra integra uma série toda ela feita a partir da imagem do animal. Tomando a forma de uma escada, ele a concebe como um corpo móvel, que sugere a possibilidade de múltiplas composições, um “corpo de fuga”, como diz. Fala ainda de seus fascínio pelo que chama de mundo mágico presente na natureza, e da utilização de elementos naturais como forma de tomar contato com essa parte da realidade, e da pré-disposição dos seres humanos para a criação de imagens. Com uma carreia como videoartista, comenta a curiosidade de participar do Festival com um trabalho em outra mídia.
.
.
.
.
.
.
.
source: lauramarsiaj
Em sua performance “Sintoma”, Carlos Melo expunha, há alguns anos, o transe erótico da mortificação provisória. Consistia em ele próprio tomar soníferos e entregar-se aos olhos dos convidados para o vernissage. Com a carne desnudada à contemplação do público presente, apenas o corpo inerte embalado pela droga realizava um objeto visível no espaço. Poderíamos dizer que não era nem ele mesmo. Ausência expressiva, suspensão de ânimos e abandono corporal marcavam inversões de códigos em nossa alardeada sensualidade, ali convertida em natureza-morta. Por fim, a silhueta fotografada do corpo nessa letargia do espírito artístico foi impressa como gravura na bula do remédio. O conjunto nos prescreve ressonâncias do vazio que rondam a arte hoje.
Na geografia imaginária de um continente performático, sempre será difícil estabelecer relações com o local onde estamos e onde nos queremos situados. A performance é uma arte global, já que seu dispositivo existencial requer apenas corpos como condição suficiente para suas consequências midiáticas. Se o trabalho ascético de Carlos Melo suspende-se sobre esse mapa simbólico de uma contemporaneidade brasileira globalizada, é por conta de sua paisagem singular em deslocamentos precisos. A sua poética prima pela desautomação do corpo como “instrumento social”, instaura reflexão acentuada e rigorosa sobre os gestos, sobre nossa comunicação silenciosa. A operação sobre os códigos de uma sensibilidade construída como segunda natureza, reinante sobre a sensibilidade originária, por assim dizer, requer também um esquecimento das “origens”.
Portamos palavras mudas, essas que são ressoantes na surdez de nossa carne, uma carcaça de linguagem que suportamos sobre a cidade repleta de olhares que a operam de fora, mas temos uma enorme dificuldade de saber o que seria de nós sem as nossas fantasiosas exterioridades. Edificamos códigos sensíveis que nos miram, como se estivessem observando tudo de cima, aprisionando nossos corpos – o meu, o teu – a definir nossa figura essencialmente exterior, um alguém de quem nem sequer se sabe algo, ou que nem mesmo se nota como singularidade na multidão vertiginosa da atualidade. Nós que nem nos conhecemos direito na intimidade de nossos ossos sobre a terra.
Há muito sabemos que, mesmo com todo o nosso esforço sobre humano, não descolamos do chão em que nos plantamos há gerações. Confinados a um patamar vulgar de trocas horizontais e mundanas, mesmo com toda hecatombe diária na luta de nossa cadeia alimentar e no exercíco de afirmação dos poderes sagrados, somos ainda sobremaneira humanos e nossos pés caminham sobre o chão.
Agora, aqui, temos a escada, sua indicativa ascencionalidade, seu contorno de coisa funcional e de meio de conexão entre planos e hierarquias. Submetida a um deslocamento material, destaca sua existência performativa. Seu frágil estado sugere-nos um desconvite a subir, sua força abjeta repele-nos o toque, seu cheiro vivo se decompõe no espaço fazendo avessos a quem deseja o perfume da obra de arte. Simples perceber que é feita de ossos de um bovino que há pouco foi devorado pelas forças da natureza – a carcaça do animal que ganhou tratos de embalsamador denota um engenho de cerzir suas juntas fora de uma engrenagem da mecânica animal. O desfazer-se deste corpo propaga ausências onde desejamos presenças.
Temos em outra parede um ícone travestido elegantemente, seu terno preto abençoa-nos com braços abertos espalhando amor eficaz sobre o mundo em que pisa. Mas neste desenho transfigurado não temos a belíssima paisagem do Corcovado a seus pés, nem pés temos neste salvador estofado de cadavérica túnica, manto que se estende do corpo à montanha num híbrido de corpo e paisagem, pernas que são pedestais. Então, a morbidez presentificada acentua-se nesta performance de planos simbólicos entre nós.
Há a fala que deciframos na pelagem dos objetos espalhados pelo mundo, objetos que são também outras pessoas ou vestígios delas em produto, resíduos de atos havidos, como existências passadas. Na busca incessante por segredos inscritos na codificação dos corpos circundantes, surge o vocabulário de suas atitudes ordinárias, e ali observamos redesenhos dessa linguagem feita sem sons e cheia de carnes, uma língua que nos toca, ainda quando distante. Sotaques e acentos cotidianos são como algo desenhado em nossa musculatura, como retórica antiga e que marca o lugar das figuras, como Cesare Ripa intentava alegorizar nosso repertório gestual, pretensamento universalizado, já no século XVI, em suas Iconologias.
Se a performance é um princípio ativo – a cura para o museu e a cidade de hoje – o efeito colateral é a intensificação da afasia na qual nos encontramos mergulhados no século que chega cheio de incertezas aos valores ocidentais. Variadas vezes a eloquência de um silêncio sacerdotal é plenitude à devoção corpórea em Carlos Melo, como se seu trabalho reverberasse um antigo signo sagrado da pintura, a “Vanitas”. Tal palavra latina é motivo que figura a passagem do tempo, simboliza um vácuo existencial e indicia a futilidade do cotidiano na distância do eterno. A “vanidade”, por assim dizer, aparece aqui sutil ou explicitamente, evocando ícones primitivos de nossa cultura cristã. Lembremos Shakespeare, a mão erguendo o crânio como símbolo do inessencial, do transitório, todo inglório na vaidade… Em outro ótimo trabalho, anteriormente mostrado por Carlos, flagram-se ostensivos microfones postos diante de um corpo em suspensão, em lugar do rosto do locutor caricato, vemos na foto os pés calçados e fragmentos de roupas pretas de um suposto luto apresentando-se à fala, como se da gastura das palavras pudesse surgir o silêncio essencial. Afonso Luz