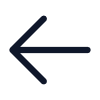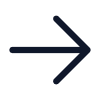Tom Van Sant
ladder kite

source: laweekly
Sculptor Tom Van Sant went to go fly a kite the other day. It was a windy day, and he had a big kite — an 800-foot-long kite, to be specific.
Van Sant calls this particular kite Jacob’s Ladder, after the Bible story about patriarch Jacob falling asleep and dreaming of a great ladder to Heaven, with angels walking up and down it.
But the kite looks more like a giant centipede with googly eyes painted on a round head, large round discs for a body and poky metal rods for legs. Van Sant built it by hand 37 years ago during a brief but glorious aerial blip in his otherwise land-based career.
Conceivably, a person could climb the Ladder’s rungs a quarter-mile up into the sky. “It can be done,” Van Sant insists, though no one has been dumb or daring enough to try.
Although Van Sant is not a professional kite maker, he is recognized as the grandfather of modern kite making. Before him, kites were made with paper and wood. He was the first to use Fiberglas tubing and nylon fabric. This was in the early ’70s, when Fiberglas had just come to market and people were using it to make cable guidelines for radio beacon towers.
Steel cable rusts, but Fiberglas doesn’t. It’s also quite flexible. Van Sant shaped the Fiberglas tube into a rounded frame, onto which he sewed the fabric as if he were making a trampoline. Jacob’s Ladder is basically a series of hundreds of little trampolines hooked together.
And if your basic kite is a single segment, Van Sant realized, you could string together as many segments as you pleased. He hooked 200 of them together on a three-wire system. Collectively, they operate like Venetian blinds, except they are self-adjusting, which means that in a wind, the kite picks the angle that is most efficient.
Van Sant is quite proud of this efficiency. “I’m a frustrated engineer maybe,” he says with a shrug.
The Ladder had not been out of storage since 1975, and he’s eager to see it fly.
While the kite is big, the wind is bigger. It blasts the Santa Monica Beach sand onto people’s legs and camera lenses and whips women’s hair into interesting sculptures.
Van Sant and his friends retreat into the lobby of the nearby Casa del Mar hotel, where more of his kites are pinned to the walls like giant abstract butterflies.
“We could make a little seat and you could go up into the sky,” Van Sant says to a little girl standing beneath one. “Would you like that?”
The girl frowns and peers dubiously at the kite, which seems to peer back at her.
Van Sant’s entire kite oeuvre originates from a two-year period beginning in 1974. Jacob’s Ladder is one of a handful of large “flying sculptures” he made during that time.
He was in his early 40s then, plugging away at a sculptural mural in Taipei, a commission titled “The History of Flight” for the Civil Aeronautics Administration Building.
Upon learning that the Chinese had been making kites for thousands of years, Van Sant wondered if anyone around was versed in the traditional techniques. The aeronautics people told him about an old man who lived by a river and still made kites the old-fashioned way, with bamboo and silk.
Van Sant went to the river. Now 82, he can’t recall the man’s first name or even what river he lived on, only that Mr. Wong made kites with great care and great beauty. Deeply impressed, Van Sant decided he’d like to make kites, too.
“When you’re a painter or a sculptor, you’re always thinking about whether something looks better this way or that way,” he explains. “I got tired of making judgments about art. The question with a kite is, will the damn thing fly?”
Van Sant admires how well his kites fly. When he speaks about them, he emphasizes their construction. (The cheerful feathers at the tips of Jacob’s Ladder’s metal rods aren’t merely decorative. They create drag and contribute to the kite’s overall stability.)
On a deeper level, kites appeal to him because he abhors “being a grown-up.”
Still, he hasn’t made a kite since those two years back in the ’70s. He can’t quite say why he stopped making them, only that he went back to his regular routine of building public sculptures.
But though Van Sant’s kite days were brief, they had a lasting effect.
Otis College of Art and Design recently held a kite festival featuring Van Sant’s work. The festival was Van Sant’s idea. The college had asked him to teach a kite-making class, and he agreed on condition that it hold a festival.
To verify Van Sant’s credentials in the kite scene, organizers called up the best kite makers in the country, one of whom is George Peters.
When they got him on the phone, Peters took them back to a sunny afternoon in 1976. Then a young watercolor painter in Honolulu, Peters happened to see Van Sant flying his fantastical, huge kites at the beach. Mesmerized, Peters decided right then and there that he would spend the rest of his life making kites.
Back in Santa Monica, Van Sant muses, “He never even introduced himself that day.”
Outside, the sun has begun to dip below the horizon. Jacob’s Ladder remains scrunched up accordion-style on the shore, unable to fly.
“These big kites work so well, they can destroy themselves if the wind is too strong,” Van Sant says. “It’s like a great sailing ship. You take the sail down in rough winds or it will break the mast.”
Most of the time, he went on, the problem isn’t getting them up. It’s getting them down.
Jacob’s Ladder can carry 2,000 pounds. It is so strong it can lift a man up into the air. It’s happened to Van Sant before: He’s had to yell to other people on the ground to grab his legs and hold him down. And that was after flying barely 300 feet of it.
He has never flown Jacob’s Ladder’s full 800 feet, “for the reason that I haven’t done a lot of things that are difficult or dangerous.”
“It’ll carry you off,” he says. “I don’t want to end up in San Bernardino.”
.
.
.
.
.
.
.
source: geosphere
Van Sant is a sculptor, painter, and conceptual artist. In thirty five years of professional work he has executed over sixty major sculpture and mural commissions for public spaces around the world. These include the international airports of Honolulu, Taipei and Los Angeles, the civic centers of Los Angeles, Newport Beach and Inglewood, and corporate centers in Taiwan, Manila, Salt Lake City, Dallas, Honolulu and San Francisco. Van Sant has had fifteen one-man exhibits in the United States, Europe and Australia. His art is represented in public and private collections throughout the world.
Van Sants’ professional skills and intellectual interests range to architectural design, city planning, art education and advanced technical invention. His large scale conceptual art projects of the 1980’s led to the creation of The GeoSphere Project, an ambitions environmental display system designed to illustrate the issues of Earth resource management.
.
.
.
.
.
.
.
source: drachenorg
Tom’s spectacular kites, produced in the mid-1970s, remain astonishing. His trampoline train has fostered newer renditions, and his large centipede and Concorde delta were both larger-than-life. Tom is known to both the science and art communities, combining state of the art technology and media to create world famous sculptures of both large and small scale.
.
.
.
.
.
.
.
source: f508
Gus Van Sant nasceu em 1952, em Louisville, EUA. Formou-se pelo Rhode Island School of Design e, lá, foi influenciado pela pintura e pelo cinema experimental. Em 1981, filmou, com baixíssimo orçamento, “Alice in Hollywood”, que nunca foi lançado. Trabalhou para uma agência de publicidade para ganhar dinheiro. Com o que ganhou, dirigiu o filme independente “Mala Noche”, em 1985, que foi bem recebido pelos críticos e foi nomeado melhor filme independente do ano pela Los Angeles Film Critics Association. “Mala Noche”, um polêmico petardo em p&b, sobre o amor idílico entre um clandestino mexicano e um norte-americano no meio-oeste, foi remasterizado digitalmente e relançado no formato DVD em 2006, em Cannes, vindo a ganhar status de cult entre os cinéfilos.
Gus Van Sant tem uma maneira singular de filmar. É talvez o único, senão um dos poucos na indústria cinematográfica mundial, a se apropriar de um estilo autoral raramente bem dosado entre o underground e a cultura de massa. Gay assumido, o cineasta norte-americano, de 55 anos, mantém-se como um dos mais atuantes de sua geração, lançando pelo menos um filme a cada dois anos. Marcado por obras de temática homossexual, o diretor está ainda mais maduro e refinado, porém sem deixar arrefecer sua verve poética. O interesse pelo submundo e a cultura que emerge dos esgotos, ruas e esquinas povoadas por gente de índole qualquer – leiam-se bêbados, maltrapilhos, clandestinos, jovens órfãos, garotos de programa e toxicômanos – é um aspecto mais que latente na filmografia de Van Sant, sobretudo em suas primeiras produções, da década de 1980 e início de 1990. Qualquer semelhança com a beat generation, à qual se filia como legítimo herdeiro, não é mera coincidência. Em fevereiro de 2011, estreou na Gagosian Gallery, em Beverly Hills, uma exposição com 12 horas de material inédito do filme “My Own Private Idaho”, incluindo cenas deletadas, cenas alternativas e bastidores.
Mala Noche (1985)
Segundo longa de Gus Van Sant, e primeiro filme realmente importante de sua carreira, “Drugstore Cowboy”, de 1989, começa com a narração em off de Bob Hughes (Matt Dillon), que está sendo transportado numa ambulância. É um começo semelhante aos de outros filmes de Van, ou seja, com o protagonista se apresentando num fato já consumado e iniciando a explicação de como chegou até ali – o que não implica começar exatamente do começo. O salto para trás que sua narração propõe transporta o filme para um dia em que o personagem e seu bando roubam uma farmácia de forma eficientemente teatral. Lá pela metade do filme, há um plano extremamente simples que define a sua primeira parte – e o que era a vida de Bob até então: ele vem andando cambaleante e, do outro lado, aproxima-se um guarda. Em sua trajetória tortuosa, Bob vive esbarrando nas autoridades – e embora sempre acabe dando um jeito de fugir delas, chega um momento em que decide que é hora de parar. O personagem não muda de vida por ter sido tomado por culpa e má consciência, simplesmente acredita que sua sorte acabou, além de ter cansado de viver fugindo da polícia. Se o que integra a obra de Gus Van Sant é a demonstração de jovens em busca de um lugar, independente de ser na sociedade ou à sua margem, aqui assistimos a um rapaz que abandona a criminalidade para ter um emprego fixo, pagar o aluguel de um quartinho, viver como homem médio, deixar para trás o jeito impulsivo com que começara o filme e se tornar um cidadão pacato. Nessa segunda parte, Van Sant filma a mecanicidade do trabalho conseguido por Bob numa fábrica – praticamente como filmara o ritual das drogas, com o mesmo cuidado formal e a mesma predileção por detalhes. Como tal opção estética deixa claro, os homens adquirem hábitos – e hábitos, não importando quais sejam, podem ou não se tornar vícios funestos. Outra referência estética importante é o surrealismo (mais até das artes plásticas que do cinema), presente principalmente nas cenas das alucinações de Bob. Não bastassem algumas imagens remeterem ao visual surrealista, em um determinado momento o personagem de Matt Dillon ainda discorre sobre estar diante do espelho e enxergar as próprias costas, possível alusão a um famoso quadro de Magritte. Recebeu prêmio no Festival de Berlim e na Independent Spirit Award como Melhor Roteiro, (Gus Van Sant e Daniel Yost), Melhor Fotografia (Robert D. Yeoman), Melhor Ator Principal (Matt Dillon) e Melhor Ator Coadjuvante (Max Perlich).
Drugstore Cowboy (1989)
Em “Garotos de Programa” (My Own Private Idaho), de 1991, Mike é o jovem cuja alma parece residir exatamente na estrada de Idaho, onde ele se encontra no início do filme. Um vasto caminho aberto entre pradarias que se estendem até o horizonte. Um não-lugar, espaço paradoxal, ao mesmo tempo pura passagem e rota em uma mitologia da conquista, filmado por Gus Van Sant como um espaço de absoluta imobilidade, onde as motos morrem e onde Mike é capaz de deitar, dormir e imaginar uma casa no centro do universo. Nesta paisagem apreendida afetivamente (“my own private Idaho”), somos imersos, para transitar livremente pelo universo emotivo de Mike. “Have a nice day”. A epígrafe de “Garotos de Programa” é também o mote que ecoa no perambular de Scott e Mike, repleto de vivências efêmeras e esparsas; de inesperados encontros e rumos imprevisíveis. E a trajetória destes personagens – ou o que conhecemos dela – é, para Van Sant, uma questão de estudo de atmosfera. Atmosfera do submundo de Portland, das estradas de Idaho, da memória, de uma amizade. Nesta “meteorologia”, a observação do céu, das paisagens, das mudanças de clima, torna-se questão cinematográfica. O sol, o vento, as nuvens, as tempestades, os relâmpagos, são manifestações em sintonia com as variações humanas, que o cinema pode melhor compreender quanto mais afinado estiver com este etéreo captado pela câmera.
My Own Private Idaho (1991)
Adaptação de romance de Joyce Maynard por Buck Henry (roteirista de “A Primeira Noite de Um Homem”), “To Die For” (Um Sonho Sem Limites), lançado em 1995, segue a trajetória da ambiciosa e nada ética Suzanne Stone (Nicole Kidman), que não mede esforços para atingir seu objetivo de tornar-se uma famosa apresentadora de TV. O filme é construído através das visões pessoais que os demais personagens fazem da protagonista. O sensacionalismo parece, segundo o longa, ser praticamente o determinante do inconsciente de significativa parcela da população americana: “É na TV que aprendemos quem realmente somos”, afirma Suzanne. É através deste telejornalismo marrom que Suzanne se tornará finalmente uma celebridade nacional, mas não como a repórter ou apresentadora, e sim como a protagonista de mais uma história sangrenta, ao ser acusada do assassinato de seu marido, o ingênuo Larry Maretto (Matt Dillon). Gus Van Sant faz aqui uma sutil comédia de humor negro, delineada desde a bem bolada sequência de abertura, e que irá culminar na ironia ímpar dos momentos finais. O filme ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia/Musical (Nicole Kidman) e foi nomeado para o BAFTA de Melhor Atriz.
To Die For (1995)
Já em “Good Will Hunting” (Um Gênio Indomável), de 1997, o jovem rebelde Will (interpretado por Matt Damon), que já teve algumas passagens pela polícia, trabalha como servente em uma universidade de Boston e revela-se um gênio da matemática quando o professor Lambeau desafia os alunos a resolverem um teorema. Will consegue resolvê-lo. Mas depois de se meter em encrencas, por conta de sua personalidade explosiva, é preso e, por determinação legal, precisa fazer terapia e ter aulas de matemática com Lambeau. Mas nada funciona – pois ele debocha de todos os analistas – até que se identifica com um deles, Sean, interpretado por Robin Williams. Ao longo da história de “Um Gênio Indomável”, fica claro o que Van Sant propõe: uma viagem pelos caminhos tortuosos, complexos e contraditórios da mente dos seus dois personagens principais. O longa levou o Oscar nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante (Robin Williams) e Melhor Roteiro Original (Matt Damon e Ben Affleck), além do Globo de Ouro como Melhor Roteiro.
Good Will Hunting (1997)
Em 1998, Gus Van Sant faz uma refilmagem do clássico de Hitchcock “Psicose” (Psycho). A primeira parte concentra-se na estrutura narrativa. “Psicose” é um filme com idas e vindas na história e personagens interessantes. Tem um ritmo diferente, mais pausado e deliberado, até porque segue as marcações de Hitchcock. O longa segue a trama original e brinca com o visual de forma criativa. Na verdade, Van Sant, equipe e elenco parecem estar se divertindo o tempo todo. A fotografia do filme é a melhor do ano de 1998 em Hollywood. Christopher Doyle usa de efeitos, sensibilidades fílmicas e filtros para dar ao longa um tom de filme preto e branco colorizado por computador – já brincando com a ideia do remake. Van Sant completa a homenagem com a mise-en-scène e o cuidado com a arte, onde tudo parece retrô, mas o filme se assume como 1998, criando um clima estranho de deslocamento temporal. Para completar, os atores se divertem imensamente, desde Vince Vaughan criando um Norman Bates gay, passando pela deusa Julianne Moore, até os ótimos atores Anne Heche (uma genial Marion Crane) e William H. Macy.
Psycho (1998)
A primeira imagem depois dos créditos já nos ensina: em traveling, com a proximidade de um plano detalhe, sempre perto demais, vemos uma pilha de livros (conseguimos ver Tchekov, Kierkegaard, Joyce, entre outros) e, em seguida, a câmera desliza pelo corpo do jovem negro até chegar em seu rosto. A aposta está lançada desde cedo: nesse filme, trata-se, antes de tudo, de filmar “de perto”, de, justamente pela proximidade, tentar filmar o ponto de ebulição, o momento em que brota o talento de um garoto de 16 anos no Bronx que, além de ser brilhante jogador de basquete, tem dons literários acima da média. Este é o contexto de “Finding Forrester” (Encontrando Forrester), lançado em 2000. Jamal emerge como antípoda da juventude endinheirada. Criado na rua, trabalha ao mesmo tempo em duas frentes diferentes – e tenta mantê-las o mais afastadas possível. De um lado, a vida com seus amigos, no basquete e com um desempenho propositalmente mediano na escola. De outro, a vida silenciosa dos livros que lê (toda a literatura americana) e das palavras que escreve em pequenos cadernos vermelhos. A economia desse sistema, até então muito bem articulado, é posta em crise quando dois acontecimentos singulares chegam à vida de Jamal: um bem-sucedido teste de inteligência chama a atenção de uma rica escola particular, que dará a ele uma bolsa se ele jogar basquete; e uma incidental visita ao apartamento de um mito das redondezas, um homem recluso que penetra na imaginação dos jovens locais. Jamal descobre, assim, um intelectual, que se revelará mais tarde como sendo o escritor William Forrester, que escreveu sua obra-prima logo cedo e que, depois, abandonou a vida pública e a literatura.
Finding Forrester (2000)
Em “Garry”, de 2002, Gus Van Sant assume influências de Bela Tarr, Chantal Akerman e Antonioni a Sharunas Bartas. Van Sant cria uma obra que é puro cinema. Dois jovens companheiros, ambos chamados Gerry, fazem uma caminhada com objetivo misterioso seguindo um trilho selvagem. Após algum tempo de marcha, acabam por se desinteressar pela “coisa” que procuravam e decidem voltar para trás, mas logo percebem que estão perdidos num terreno hostil. Os limites do quadro e do tempo de cada plano são explorados constantemente (desde o primeiro plano, aliás), e a utilização da paisagem natural como fonte de encantamento (do espectador, principalmente) e opressão encontra paralelos no cinema atual.
Garry (2002)
O enredo de “Elephant”, de 2003, ocorre em dia aparentemente comum na vida de um grupo de adolescentes, todos estudantes de uma escola secundária de Portland, no estado de Oregon, costa oeste dos Estados Unidos. Enquanto a maior parte está engajada em atividades cotidianas, dois alunos esperam, em casa, a chegada de uma metralhadora semi-automática, com altíssima precisão e poder de fogo. Munidos de um arsenal de outras armas que vinham colecionando, os dois partem para a escola, onde serão protagonistas de uma grande tragédia. O filme foi inspirado no Massacre de Columbine, em que um estudante de 17 anos atirou em vários colegas e professores. A inspiração para o título do filme veio em um documentário homônimo de Alan Clarke, de 1989, que se passa em período e local (Irlanda do Norte) diferentes, mas que também trata da violência entre os jovens através de uma narrativa picotada. Apesar de Clarke ter assim nomeado seu filme por julgar o problema abordado “tão facilmente ignorável quanto um elefante na sala de estar”, Van Sant inicialmente achou que o título se referia a uma antiga parábola budista sobre um grupo de cegos examinando diferentes partes de um elefante. Nessa parábola, cada cego afirma convictamente que compreende a natureza do animal com base tão-somente na parte que lhe chega ao tato. Ninguém vê ou sente o objeto na sua totalidade, mas todos arriscam um palpite totalizante – e, naturalmente, equivocado. Mesmo após ter descoberto o verdadeiro motivo pelo qual o documentário de Alan Clarke se chama “Elephant”, Van Sant afirma que o seu filme, rodado numa escola situada em Portland, tem mais a ver com a parábola dos cegos. Antes de pôr qualquer coisa no papel, o cineasta quis ouvir o que tinham a dizer os estudantes da escola onde “Elefante” foi filmado. O roteiro final nasceu mais desse contato com o ambiente escolhido para rodar o filme do que das ideias originais do projeto. O que Van Sant construiu no longa foi uma visão fragmentada, e não conclusiva, sobre a altamente complexa questão trazida à tona pelo episódio sangrento de Columbine. Consagrado por saber filmar os jovens sem deturpar seu universo, o diretor adotou um posicionamento inequívoco, aquele de onde se vê tudo e nada ao mesmo tempo: o olho do furacão, o epicentro do evento trágico.
Elephant (2003)
“Last Days” relata os demônios interiores que atormetam um jovem músico talentoso, mas perturbado, nas últimas horas de sua existência. Blake (Michael Pitt) é um artista introspectivo, prostrado pelo peso do sucesso, que o conduziu a uma solidão sem fim. Refugiado numa casa no meio de um bosque, tenta fugir da sua vida, das pessoas que o rodeiam, dos amigos que o procuram para pedir favores ou dinheiro, e das suas obrigações. “Last Days” segue Blake nas suas últimas horas, um fugitivo da sua própria vida. O filme, lançado em 2005, é sobre as últimas horas de uma estrela do rock, dedicado ao maior ícone do movimento grunge, Kurt Cobain.
Last Days (2005)
“Paris, je t’aime” foi uma obra dirigida por vários cineastas e lançada em 2006, e Gus Van Sant foi um dos 18 diretores que participaram. Logo em seguida, em 2007, Sant lança “Paranoid Park”, em que um jovem de 16 anos, Alex, decide ir sozinho a um parque que é o paraíso dos skatistas (Paranoid Park), onde é chamado para uma “volta de trem” por Scratch. Enquanto os dois se penduram no vagão de um trem, um guarda da estação tenta afugentá-los com sua lanterna. Alex tenta afugentá-lo com seu skate, o guarda cai de costas nos trilhos paralelos e é cortado ao meio por outro trem. Atormentado, Alex tenta se livrar de seu skate e suas roupas, mas a polícia acaba por descobrir que o acidente fora causado por um skatista. Aconselhado por uma amiga, Alex escreve uma carta sobre o incidente, também contando sobre os dias precedentes e posteriores. A trama segue a carta. “Paranoid Park” é um filme sem chão, sem teto. Os personagens do filme são adolescentes que vivem sobre seus skates, logo acima do chão, abaixo do teto – ou entre o céu e a terra. O espaço-imagem que Gus Van Sant cria para eles se dá justamente aí, um pequeno vôo em slow motion, como na cena em que vemos, um a um, os skatistas passando diante da câmera. O último deles erra a manobra e cai. Um corpo em suspensão, uma fatalidade, uma queda. O protagonista Alex (mesmo nome de um dos atiradores de “Elefante”) escreve uma carta contando o que lhe aconteceu, e a narrativa do filme segue o relato caótico que vem direto de sua mente, como lampejos da consciência. Estamos colados ao ponto de vista do personagem, e não mais às operações do dispositivo (como era em Elefante e Last Days). A exploração de um universo mental do personagem lembra os filmes anteriores a Gerry – em particular, Drugstore Cowboy, Garotos de Programa e Gênio Indomável.
Paranoid Park (2007)
Milk (2008), um cara carismático e bem-humorado, muda-se de Nova York para São Francisco em 1972, onde planejava com o namorado abrir uma loja de fotografia na rua Castro, onde à época os gays não eram bem recebidos. Milk resiste e, em pouco tempo, todo o bairro Castro torna-se referência na luta pelos direitos dos homossexuais. A luta de Milk o transformou em um líder político, comandando campanhas nacionais pelos direitos dos gays, recebendo inclusive apoios conservadores, como do então aspirante à presidência Ronald Reagan. A recriação personalíssima de parte da biografia de Harvey Milk representa para Van Sant muito mais do que a mera filiação a uma causa (o movimento gay) ou uma simples asserção política (a necessidade de lutar pelos direitos das minorias). O percurso do personagem tal como acompanhamos é o de um indivíduo nos anos mais intensos de sua vida, em que estar no seio de uma efervescente vivência coletiva corresponde a ocupar fundamentalmente o epicentro de um momento histórico. Colocar a História, com datas e referências concretas, no coração deste filme é, portanto, relembrar àqueles que tenham por ventura esquecido que filmar a “flutuação” de corpos no espaço sempre foi para ele uma ferramenta formal para ressaltar a gravidade a que os homens estão submetidos.
Milk (2008)
No longa Restless (Inquietos), de 2011, nos deparamos com figuras na eminência da morte, seja como um trauma passado ou uma inevitabilidade futura: Enoch (Henry Hopper) esteve morto por três minutos, e Annabel (Mia Wasikowska) sofre de câncer terminal e morrerá dentro de três meses. Os dois têm uma relação íntima com a morte a ponto de a terem tornado um elemento presente em seus cotidianos de brincadeiras infantis: eles se conhecem “de penetra” num enterro. O tom de “Inquietos”, que por vezes evoca um olhar infantil sobre o mundo ou um melodrama adolescente, não consegue embalar inteiramente numa perspectiva inocente porque, tal como, por exemplo, no universo de Hayao Miyazaki, logo se recorda que, por trás da magia da criança, a morte espreita e condena seus personagens. No filme, esta consciência gera situações ao mesmo tempo idílicas e de um humor negro afável.
Restless (2011)
Em Terra Prometida (Promised Land), de 2012, se há ainda planos-sequência aqui e ali, predomina a dinâmica dos planos curtos, com a câmera indo de um ângulo para outro, alterando a distância em relação aos corpos, balançando freqüentemente, a refletir os cataclismas do território onde está, os acidentes do solo, o movimento de um olhar que pisca e se move com velocidade, tentando cobrir todos os campos da visão. A opção pelo excesso de cortes e pela câmera na mão pressupõe vínculo com o neo-naturalismo da moda, cuja operação estética visa a produzir a aparência de um telejornal ao vivo já todo decupado, ou de um reality show com câmera na mão e já montado na própria filmagem. Steve Butler (Matt Damon) trabalha numa empresa especializada em extração de gás. Um dia, lhe é solicitado que viaje até uma cidade do interior para convencer os moradores da região que eles não devem se opor à chegada da empresa extratora. Porém, ao lidar diariamente com as pessoas, Steve acaba questionando suas próprias convicções.
Promised Land (2012)
“See of Tree”, sua obra mais recente, ainda sem previsão de lançamento, mostra a floresta Aokigahara, conhecida também como “Sea of Trees”, localizada aos pés do Monte Fuji, no Japão, e famosa por ter um alto índice de suicídios. Dois homens, o americano Arthur Brennan (Matthew McConaughey) e o japonês Takumi Nakamura (Ken Watanabe), vão até lá com este pensamento, mas acabam iniciando uma jornada de reflexão e sobrevivência mata adentro.
Em seus trabalhos, Van Sant consegue transmitir, como poucos, o grau de urgência, a ambigüidade e os arroubos de euforia e pesadelos da fase juvenil. O diretor capta o espírito jovem por meio de uma lupa generosa e destemida, com pinceladas intensas de poesia beat. Em duas décadas, Gus Van Sant já elaborou, praticamente, um dossiê da juventude norte-americana pós-moderna, multifacetada em suas várias “tribos” urbanas. Seus filmes são carregados de reflexão, em que seus personagens frequentemente passam por momentos de indagação e amadurecimento.